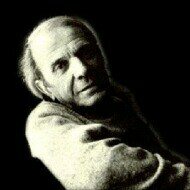
Gilles Deleuze - O ato de criação
Palestra de 1987. Folha de São Paulo, 27/06/1999. Tradução: José Marcos Macedo.
Uma voz fala de alguma coisa. Fala-se de alguma coisa. Ao mesmo tempo, nos fazem ver outra coisa. E enfim, aquilo de que nos falam está sob aquilo que nos fazem ver. Esse terceiro ponto é importantíssimo. (...) O que é isso senão aquilo que somente o cinema pode fazer? Não digo que ele o deva fazer, mas que o cinema o fez duas ou três vezes, que foram grandes cineastas que tiveram essa ideia. Eis uma ideia cinematográfica. Ela é prodigiosa porque assegura ao âmbito do cinema uma verdadeira transformação dos elementos, um ciclo que, de um golpe, capacita o cinema a fazer eco a uma física qualitativa dos elementos. Isso produz uma espécie de transformação, uma grande circulação de elementos no cinema a partir do ar, da terra, da água e do fogo. Em tudo o que eu digo, a história não é suprimida.
A história está sempre presente, mas o que nos espanta é o fato de a história ser tão interessante pela própria razão de ter tudo isso atrás dela e com ela. Nesse ciclo que acabo de definir tão rapidamente — a voz se ergue ao mesmo tempo que aquilo de que nos fala, voz afunda-se na terra — vocês reconheceram a maioria dos filmes dos Straub, o grande ciclo dos elementos dos Straub. O que vemos não é mais do que a terra deserta, mas essa terra deserta é como grávida daquilo que ela tem debaixo. E vocês me dirão: mas o que sabemos daquilo que ela tem debaixo? Ora, justamente aquilo de que nos fala a voz. Como se a terra se arqueasse em razão daquilo que a voz nos diz, e que vem tomar assento sob a terra em seu tempo e em seu lugar. E, se a voz nos fala de cadáveres, de toda a linhagem de cadáveres que vem tomar assento sob a terra, nesse momento, o menor frêmito de vento sobre a terra deserta, sobre o espaço vazio que vocês têm sob os olhos, o menor sulco nessa terra adquire todo o seu sentido. (...)
Ora, o que é uma informação? Não é nada complicado, todos o sabem: uma informação é um conjunto de palavras de ordem. Quando nos informam, nos dizem o que julgam que devemos crer. Em outros termos, informar é fazer circular uma palavra de ordem. As declarações da polícia são chamadas, a justo título, comunicados. Elas nos comunicam informações, nos dizem aquilo que julgam que somos capazes ou devemos ou temos a obrigação de crer. Ou nem mesmo crer, mas fazer como se acreditássemos. Não nos pedem para crer, mas para nos comportar como se crêssemos. Isso é informação, isso é comunicação; à parte essas palavras de ordem e sua transmissão, não existe comunicação. O que equivale a dizer que a informação é exatamente o sistema do controle. Isso é evidente, e nos toca de perto hoje em dia.
É verdade que entramos numa sociedade que podemos chamar sociedade de controle. Um pensador como Michel Foucault analisara dois tipo de sociedades bastante próximas de nós: as sociedades de soberania e as sociedades disciplinares. (...) A sociedade disciplinar definia-se . . . pela constituição de meios de enclausuramento: prisões, escolas, oficinas, hospitais. As sociedades disciplinares tinham necessidade disso. (...) É claro que existe todo tipo de resquício de sociedades disciplinares, que persistirão por anos a fio, mas já sabemos que nossa vida se desenrola numa sociedade de outro tipo, que deveria chamar-se, segundo o termo proposto por William Burroughs — e Foucault tinha por ele uma viva admiração —, de sociedades de controle.
Entramos então em sociedades de controle que diferem em muito das sociedades de disciplina. Aqueles que velam por nosso bem não têm ou não terão mais necessidade de meios de enclausuramento.
Com uma estrada não se enclausuram pessoas, mas, ao fazer estradas, multiplicam-se os meios de controle. Não digo que esse seja o único objetivo das estradas, mas as pessoas podem trafegar até o infinito e “livremente”, sem a mínima clausura, e serem perfeitamente controladas. Esse é o nosso futuro.
Suponhamos que a informação seja isso, o sistema controlado das palavras de ordem que têm curso numa dada sociedade. O que a obra de arte pode ter a ver com isso?
Não falemos de obra de arte, mas digamos ao menos que existe a contra-informação. Em países sob ditadura cerrada, em condições particularmente duras e cruéis, existe a contra-informação. No tempo de Hitler, os judeus que chegavam da Alemanha e que foram os primeiros a nos contar sobre os campos de extermínio faziam a contra-informação. O que é preciso constatar é que a contra-informação nunca foi suficiente para fazer o que quer que fosse. Nenhuma contra-informação foi capaz de perturbar Hitler. Salvo num caso. Que caso? Isso é de vital importância. A única resposta seria que a contra-informação só se torna eficaz quando ela é — e ela o é por natureza — ou se torna um ato de resistência. E o ato de resistência não é nem informação nem contra-informação. A contrainformação só é efetiva quando se torna um ato de resistência.
Qual a relação entre a obra de arte e a comunicação? Nenhuma. A obra de arte não é um instrumento de comunicação. A obra de arte não tem nada a ver com a comunicação. A obra de arte não contém, estritamente, a mínima informação. Em compensação, existe uma afinidade fundamental entre a obra de arte e o ato de resistência. Isto sim. Ela tem algo a ver com a informação e a comunicação a título de ato de resistência.
Qual a relação misteriosa entre uma obra de arte e um ato de resistência, uma vez que os homens que resistem não têm nem o tempo nem talvez a cultura necessários para relacionar-se minimamente com a arte?
Não sei. André Malraux (escritor e diretor francês, 1901-1976) desenvolve um belo conceito filosófico: ele diz uma coisa bem simples sobre a arte, diz que ela é a única coisa que resiste à morte. (...)



