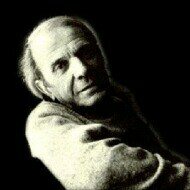(Luiz Antônio Botelho Andrade e Edson Pereira da Silva)
Departamentos de Imunobiologia e de Biologia Marinha, UFF, Niterói
. . . podemos ampliar a definição do conhecer para fora do âmbito humano e, assim, aceitar que todos os organismos vivos atuais possuem uma conduta adequada aos contextos em que vivem (estão adaptados) e, portanto, estão em ato contínuo de conhecer o mundo em que vivem, justificando-se, assim, o aforismo "viver é conhecer", anunciado pelos neurobiólogos chilenos Humberto Maturana e Francisco Varela com a Biologia do Conhecer (Maturana, 1970; Maturana e Varela, 1995).
É precisamente este "se manter vivo", em acoplamento estrutural com o meio, que estamos conotando como conhecer biológico, ou seja, todo organismo vivo está, momento a momento, em ato contínuo de conhecer. Assim, não devemos surpreender-nos com o conhecer de um pássaro em migração, vencendo distâncias de mais de 5.000 km para fugir do inverno. Tampouco devemos nos surpreender se um outro pássaro mergulha para capturar um peixe abaixo da linha d'água e, mesmo sem saber a lei de difração de Snell, é bem sucedido em seu empreendimento. E o peixe, que conhece o mundo d'água, é interrompido no seu ato contínuo de conhecer o mundo (d'água) e morre. Nesse caso, tanto o pássaro quanto o peixe conhecem o mundo em que vivem e podem morrer quando deixam de estar em ato contínuo de conhecer, isto é, perdem o acoplamento estrutural com o meio, deixam de saber viver.
Aquilo que chamamos de conhecimento é o produto advindo do processo sistemático do conhecer e inclui, além do produto advindo do processo, a capacidade do organismo observar e de fazer referência, de forma recursiva e recorrente, à própria história do processo. Essa capacidade de fazer referência à história, utilizando as recursões da linguagem é particular [exclusiva] e constitutiva do mundo humano.
Para Maturana, a linguagem, entendida como fenômeno biológico, é uma maneira dos indivíduos fluírem em interações recorrentes por meio das coordenações de coordenações condutuais consensuais (Maturana, 1989, 1997). Seguindo essa definição, o autor faz-nos três alertas com relação à linguagem: primeiro, a linguagem não tem lugar no corpo dos participantes, mas sim, no espaço de coordenações recorrentes e consensuais de conduta. Segundo, nenhuma conduta em particular constitui, por si só, um elemento da linguagem, mas é parte dela somente na medida em que pertencer a um fluir recursivo de coordenações consensuais de conduta. Assim, são palavras somente àqueles gestos, sons e posturas corporais participantes do fluir recursivo como elementos das coordenações de coordenações consensuais de conduta que constituem a linguagem. Terceiro, a capacidade do ser humano em fazer referência à história por meio das distinções na linguagem, pelas recursões recorrentes de coordenações de coordenações condutuais consensuais com as quais e pelas quais surgem tanto o observar quanto o observador. Logo, pensar o conhecimento é assumir um referencial de segunda ordem. Para além dos enredos fenomênicos e para além dos enredos explicativos, construir um enredo do enredo - um meta-enredo. Nesse sentido, talvez pudesse ser dito, usando a pescaria como uma metáfora, que o peixe é a rede. É esse movimento de reflexão para conhecer o conhecer, esse se voltar sobre a volta que conotamos como conhecimento e que nos permite recuperar da vertigem referida por Maturana e Varela na epigrafe deste ensaio.
Se o leitor aceitou que o conhecer - conduta adequada de um organismo em um contexto - pode ser ampliado para toda escala biológica, solicitamos também ao leitor que aceite a possibilidade do aprender - mudança da conduta de um organismo - ser ampliado da mesma forma. Se isso for aceito, segue que o aprender acontece o tempo todo, como uma mudança contínua da conduta do organismo. É precisamente essa ação contínua do mudar de conduta do organismo que estamos afirmando como inevitável, pelo menos enquanto esse organismo estiver realizando a autopoiese, em acoplamento estrutural com o mundo.
. . . o ensino não existe, pelo menos da forma como ele é entendido pelo senso comum, como instrução, como transferência de informações, de comunicados. Existe um fechamento operacional do vivo, implicando com isto que o seu operar é sempre auto-referencial e, portanto, hermético às informações (Maturana, 1970). Isso não impede, no entanto, que sejamos estimulados pelo mundo exterior. Os estímulos de fora não podem especificar de forma instrutiva a estrutura interna do organismo como um todo, nem a sua conduta - a relação do organismo com o meio (Maturana, 1970; Maturana e Varela, 1995).